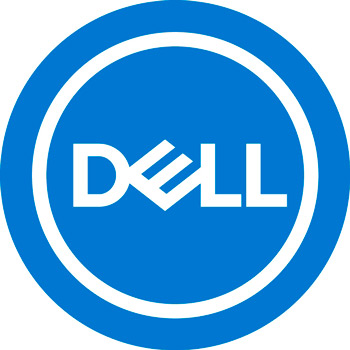“É preciso reconstruir tendo uma visão de futuro”, diz consultor com experiência em desastres
Mestre em psicologia social e doutor em saúde pública, Marcio Gagliato está no Rio Grande do Sul analisando a tragédia gaúcha e e sugerindo formas de reconstrução das áreas atingidas
RODRIGO LOPES
Consultor internacional com experiência em desastres socioambientais e conflitos armados, o paulista Marcio Gagliato está no Rio Grande do Sul analisando a tragédia gaúcha das enchentes e sugerindo formas de reconstrução das áreas atingidas. Mestre em psicologia social e doutor em saúde pública pela Universidade de São Paulo (USP), o psicólogo atuou em dezenas de locais de tragédias, como Líbia, Somália, Faixa de Gaza, Irã, Síria e Polônia, na fronteira com a Ucrânia em guerra.
Desde 2004, trabalha diretamente com entidades como a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Comitê Internacional da Cruz Vermelha e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). Em entrevista à coluna, ele explicou um conceito que pode ser útil diante do atual cenário de destruição do Estado: a capacidade de reconstruir municípios tendo como objetivo uma perspectiva melhor do que estavam antes da calamidade. Gagliato está em Porto Alegre a convite do Transforma RS, grupo que reúne empresas, governo, universidades e sociedade para pensar o desenvolvimento do Estado. A seguir, os principais trechos da conversa.
Você acompanhou muitas tragédias humanitárias fora do Brasil. Como é testemunhar uma tragédia no teu país?
Obviamente, me senti profundamente mobilizado. Estou mobilizado, como toda a população está. Eu que atuo nesses conflitos, nesses desastres socioambientais, há 20 anos, me vejo impelido de, na minha própria casa, tentar trazer as lições aprendidas desse campo para atender à população afetada, fazer dentro da minha própria casa essa intervenção.
Para onde a gente olha no Rio Grande do Sul, há destruição, desabrigados, luto. Por onde começar a reconstrução?
Várias vezes, eu me senti profundamente intimidado quando pensava em conflitos e em desastres, pela sua magnitude, pelo aspecto catastrófico. Mas uma coisa carrego com muita convicção e gratidão: ter encontrado e aprendido nesse campo de trabalho que a vida é potente. Então, a vida resiste. A vida é resiliente e ela sempre vai se manifestar diante de momentos de crise e de extremos. Também tenho certeza de que a vida está respondendo e está se organizando em uma resposta, em uma articulação de resposta. Quando os problemas são múltiplos, as prioridades não são hierárquicas, são horizontais, paralelas, são múltiplas as prioridades. Nesse momento, isso está acontecendo (no Estado). Pude andar por Porto Alegre, por alguns abrigos, escutei muito das pessoas sobre essa mobilização da própria comunidade, como a primeira resposta da crise veio exatamente do seu vizinho, da sua própria comunidade, veio do voluntário. Por onde começar? Ela já começou. E ela começou dentro dessa resposta que, mais uma vez, encontro aqui: nessa potência que a gente carrega e tem, que é a vida.
Qual o papel do poder público, da sociedade e dos entes empresariais nesse momento de reconstrução? É possível separar?
Não. Se separar, já será algo lamentável. Em termos de lições aprendidas e de riscos, um deles é justamente o desmembramento das ações de forma não coordenada. A coordenação é um pilar fundamental de uma resposta efetiva: evita duplicação de ações, consegue-se chegar nos mais vulneráveis, naqueles que estão mais afetados por uma emergência. Essa articulação é primariamente do governo, do ente público. Essa gestão é de responsabilidade do poder público. Agora, nenhum setor e ninguém consegue dar conta de tudo. Por isso que o poder público é o responsável, e se espera dele essa capacidade de resposta, uma resposta que também não começa na crise. Ela depende muito do planejamento e da preparação que houve para esses cenários. Por isso, a cada lugar que vou, pergunto: o que já estava lá antes? Para eu usar aquilo como um caminho de intervenção e um caminho de ajudar na resposta. Portanto, nesse tripé governo, sociedade civil e entidades privadas, as comunidades são centrais. As comunidades não são e não podem ser tratadas como objetos de ajuda humanitária. São sujeitos ativos, participantes, protagonistas da sua recuperação e da sua reconstrução. E esse é um enfoque que precisamos insistir, exigir e planejar, porque cada intervenção, desde como você planeja um abrigo, pode simplesmente tratar isso um grupo de pessoas totalmente vítimas e objetos, ou um grupo de pessoas escutadas, que são ativas e participantes até na gestão daquele abrigo. É uma linha de raciocínio, de atuação, de planejamento: onde há uma participação ativa ou quando a participação vem de cima para baixo, quase de forma colonial, do tipo “Eu sei o que você precisa”.
Quando se olha para outros desastres naturais, como o Katrina em New Orleans, o tsunami no Japão ou o Sandy em Nova York, eram catástrofes muito localizadas. No RS, temos praticamente todo o Estado impactado. Há paralelos?
A questão geográfica não é a mais importante. O ponto é planejamento, preparação, estrutura pública, políticas públicas, capacidade de resposta, de financiamento. Eu também atuei no desastre na Líbia, na região de Derna: também foi um evento climático extremo que rompeu uma barragem que não estava sendo cuidada, não estava sendo monitorada por causa do conflito armado desde 2011, do colapso do país. Em questão de segundos, 20 mil vidas, gerações de famílias, foram levadas. É (um desastre) localizado na região de Derna, mas tem uma necessidade que vai muito além da geográfica. Passa por toda uma rede, uma teia social, de políticas, de práticas, de problemas anteriores, inclusive. Quando a gente fala de emergências, é uma pena, do ponto de vista de alguém que estuda e trabalha crises humanitárias, que elas tenham tanta atenção, porque faz parte de uma indústria da emergência. Na verdade, a grande atenção tinha de estar antes disso acontecer, na prevenção, na preparação. Há uma indústria da emergência, que se vê repetindo nas diversas crises humanitárias, assim como aconteceu no Haiti. O Haiti nunca teve tanta atenção depois de 2010 (a partir do terremoto). Antes de 2010, ninguém sabia do Haiti. Depois do terremoto, houve campanhas, televisão. E durou quanto tempo? Quem sabe? Quem sabe o que está acontecendo no Haiti hoje em dia?
Com a Ucrânia, o mesmo.
Ninguém lembra da Guerra da Ucrânia. Então, tem um pico de movimento de solidariedade que também merece a sua própria reflexão, mas ela tende a desaparecer. E isso a gente também precisa antecipar para que se aproveite hoje esse movimento da sociedade.
Você falou de recursos financeiros. Não adianta o dinheiro chegar e ser mal gerido. Como fazer a articulação adequada?
Primeiro, é fundamental que as ações de emergências, ao mesmo tempo em que elas acontecem, possam ter uma visão de futuro. Tem uma expressão que eu gosto de utilizar, que vem do jargão humanitário, que é o “Build Back Better”, que é “reconstruir melhor”. No processo de resposta humanitária, você consegue, de repente, reconstruir políticas, reconstruir aquela região afetada, melhor do que estava antes (do desastre). Nesse sentido, crises também são oportunidades. Obviamente, o aspecto financeiro é um pilar fundamental. Precisa estar muito bem informado nessas decisões. Aí, tem um espaço técnico importante de fazer um planejamento resiliente para que esses recursos, que são limitados, possam estar muito bem orientados. Isso eu acho que é fundamental. Os mecanismos de transparência, não tem jeito, acontecem. Como pode, em momentos de tremendo sofrimento humano, se abrir uma porta de aproveitamento desse sofrimento humano de várias direções, de indivíduos, de coletivos, de vários aspectos.
Na tragédia do Katrina, em 2005, em New Orleans, não se tinha redes sociais ativas como hoje. Qual o papel da desinformação, das fake news, ao prejudicar a reconstrução de um território?
Trabalhamos no dia a dia com isso, estamos aprendendo também enquanto isso está acontecendo. É uma velocidade impressionante. Antigamente se chamava de rumor, que vem do medo, que vem da ansiedade, que vem da fantasia da população. Isso sempre existiu em momentos de crise. Quando eu estava no Timor Leste em 2004, no tsunami que aconteceu no Sudeste Asiático, o rumor na ilha era impressionante. Acho que tive uns 10 tsunamis, eu fui acordado com 10 gritos, 10 vezes, 10 dias seguidos com gritos de tsunami, porque o rumor era muito grande. Hoje, é um fenômeno social com o qual temos de lidar. Insisto muito no aspecto da comunicação de risco, tem de ter praticamente um gabinete próprio, como um departamento de inteligência da comunicação, que não é só a prestação de informação para a população afetada, mas um mecanismo de mão dupla, de escuta da população afetada, um canal recíproco de comunicação que se retroalimenta, e que, inclusive, lide com as perguntas, as fantasias, os medos da população, sejam quais forem. Existem, hoje em dia, tecnologias e mecanismos de escuta social através das redes sociais. Não tem como combater o fato de existir a desinformação. Ela existe. O que a gente pode fazer é mitigar a presença dela, criar mecanismos estruturados de resposta de forma imediata, eficiente, de maneira que construa credibilidade. E como é que se constrói uma credibilidade? A credibilidade não vem dizendo “acreditem em mim”. Há mecanismos para construir essa credibilidade com a população afetada, principalmente se é feito com ela, não para ela.
Tem se falado no Rio Grande do Sul que, neste momento, é hora de salvar vidas, de pensar nas pessoas, mas ao mesmo tempo você fala de prevenção, que, no Brasil, não recebe, em geral, atenção. Existe um momento adequado, do ponto de vista de um corpo social, de se começar a responsabilização por eventuais equívocos?
É muito difícil de responder essa pergunta especificamente sobre essa crise. Já que você me chamou por esse lado do psicólogo, a justiça é um instrumento fundamental de reparação e, portanto, é terapêutica. Tem um aspecto sobre o que é justo e fazer a justiça que dignifica aquilo que foi retirado da população como direito. Então, tem que existir. Eu espero que exista, porque a ausência é, inclusive, um prejuízo de vida para muita gente.
O RS passou por uma outra tragédia, a da boate Kiss, em Santa Maria. Como se recupera a autoestima de uma comunidade?
Gostei muito de uma fala que hoje eu escutei em um dos abrigos. Foi a seguinte: “As pessoas estão dizendo que a gente perdeu tudo. Eu não perdi nada. A minha família está aqui. Os meus irmãos estão aqui. Os meus filhos estão aqui. Então, que história é essa de que eu perdi tudo?”. Aí a mesma pessoa disse: “Eu já perdi as coisas de casa. Entrar água enchente na casa já acontecia antes. Isso não é novidade para nós”. Que fala de autoestima poderosa. Sobre sofrimento, não se deve tirar a ideia de que a população não deve sofrer. Todos que somos afetados temos essa ilusão de felicidade, de que o sofrimento é um problema. Não, ele é uma experiência humana de agora, de lidar com toda essa realidade, mas a esperança também é. As ações agora são humanizadoras nesse processo, ajudam no que você chama de autoestima. A autoestima está muito relacionada à capacidade de a pessoa também acreditar. Acreditar nela, acreditar no coletivo. E uma forma disso acontecer é justamente a proteção que a própria comunidade traz como laço social, como se sentir membro de uma comunidade. Nesses abrigos, nesses grupos de voluntários, muitos deles estão redescobrindo um sentido que eles há muito tempo não sentiam de pertencimento coletivo.